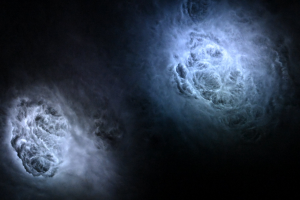Depois de voltar ao posto de restaurante mais celebrado e número 1 do mundo, pela (sempre discutível) lista dos 50 melhores produzida pela revista inglesa Restaurant, o Noma de Copenhague ampliou seu mistério. Desde 2010, é a quarta vez que figura no topo do ranking (a exceção foi 2013). A pergunta que me fazem, por já ter comido lá, sempre é a mesma: mas ele é o melhor de verdade? E se é, por quê?
É o melhor por ser bem situado? Não. A localização é bonita porque Copenhague é uma cidade linda, mas não tem nada de especial, um antigo galpão de beira-mar que o chef René Redzepi candidamente me contou ter escolhido por ser o que podia pagar quando abriu. “Ninguém vinha aqui, de noite dava medo, só tinha traficante e a barra-pesada da cidade.” Há uma dezena de velhos armazéns na área, paisagem meio monótona.
Ah, deve ser o luxo do local? Não de novo, o salão é confortável, absolutamente normal, não tem pompa, nem obras de arte, nem luxo algum. Parece quase um showroom de design escandinavo, funcional e agradável, sem ostentação.
O serviço é muito bom, descomplicado, com o próprio Redzepi servindo alguns pratos nas mesas, junto com os garçons. Você se sente bem tratado, a brigada é amigável, faz piadas, de um jeito natural e simpático. A carta de vinhos é cuidada e escolhida a dedo pelos dois sommeliers, sem adega enorme ou safras notáveis de muitos dígitos em preço, uma carta focada na comida. Toda a equipe é extremamente bem informada sobre o que servem e sobre os vinhos, apenas o que se espera de um bom restaurante, nada que o justifique como “o melhor”.
Deve ser caríssimo, daí ser o melhor! Não, o preço não é exorbitante, preço de um restaurante caro no Brasil e menor que o de muitos três estrelas europeus. Até aqui o perfil é o de um bom restaurante e só.
Afinal, onde está o segredo para ser o melhor do mundo? Antes preciso dizer algo: foi a minha melhor refeição em décadas. Não concordo com esse negócio de número 1, para qualquer coisa já é besteira, o cara que ganha o Oscar foi mais ator do que o outro que também foi indicado? Em quê? Uma piscadela, teve uma morte mais dramática no filme? É por aí, onde está a régua que mede coisas tão sutis? Mas, mas…
O Noma tem sim a comida mais notável do momento. E entrar numa fila de milhares de pedidos de reserva para conseguir uma mesa tem a ver com isso. Não é comida de encher a boca de água, lembrando agora do que comi, revendo as fotos, não estou com vontade de repetir, nada como uma saborosa lasanha ou um bifão malpassado que posso ir devorar neste minuto. É algo único, experiência singular, que se pode querer uma vez por ano, no máximo. Mesmo que a reserva fosse simples e o restaurante de Redzepi ficasse aqui na esquina de casa, eu não iria com frequência. O segredo do seu charme é o partido único, servir o que nenhum outro lugar serve, coisas coletadas no entorno natural escandinavo. René Redzepi praticamente inventou o conceito de foraging, a caça e cata de alimentos que estão ali no mato, no bosque, que nem eram comidos, supermercado do selvagem. Se não inventou (todos os povos fazem isso, dirá a antropologia), aperfeiçoou a técnica para se tornar um standard gastronômico. Quando começou, várias berries que usava nem eram conhecidas dos próprios dinamarqueses. E cogumelos, líquens, algas, corais. Do mar escandinavo foi atrás do bizarro, do rejeitado ou do, até então, considerado não comestível.
E ele é um grande chef, com conhecimento apurado, mas, apesar de sua intervenção férrea na cozinha, a técnica não aparece, ele se esconde atrás da natureza, deixando os produtos surpreenderem. Há boas gargalhadas também, coisa raramente associada a sisudas refeições da alta gastronomia. O famoso vidrinho com gelo onde está um camarão bem pequeno, vivo. É preciso catá-lo, arisco e agressivo, com a mão, passá-lo no molho e colocá-lo se contorcendo na boca. Ou é o garçom que se aproxima, depois de uma espera pelo prato um pouco longa e diz: “Não gostou?” “Não gostei do quê?” Era o vasinho que enfeita a mesa que devia ter sido mastigado, ervas e uns gravetinhos feitos de massa, revestidos de pós de alga: comer a decoração. Ou, ainda, o ovo que vem em um ninho e é preciso quebrar e fritar ali na mesa. E os bolinhos estilo sonho com um arenque inteiro espetado neles.
Tudo bem, dito assim, de modo anedótico, pode fazer pensar: é isso mesmo? Só uns joguinhos? O melhor do mundo sai desses truques? A experiência extraordinária é a de mexer nas certezas do que é comestível, arrancar de um solo bem pobre aquilo que é alimentar e colocar no mundo produtos do terroir escandinavo cuja existência se desconhecia. E é delicioso, tudo tem sabor, até a água de bétula, extraída com grande consciência da árvore, como faz um seringueiro, sem esgotar a seiva, um percentual pequeno de cada planta. Água densa, saborosa, delicada. Na aparência de espontâneo, tudo é pensado, afinado durante anos, como uma filarmônica tão bem ensaiada que parece tocar sem esforço. No final do longo almoço, Redzepi me recebeu na sua cozinha experimental. Entre conversas, imprimiu uma lista de lugares para ir na cidade e recomendou o “seu” tradicional restaurante local, onde tem até um prato em sua homenagem. “É a cozinha dinamarquesa de toda a vida, bem como as pessoas comem”, disse.
Fui lá e comi os ovos mexidos com salmão, os pepinos azedos e a aquavit da casa, aguardente de maçã, no caso. Para ver que chef ultramoderno também gosta de comida do passado. Mais uma prova de que a guerra dos tradicionalistas versus os modernizantes só existe para quem inventou o assunto.