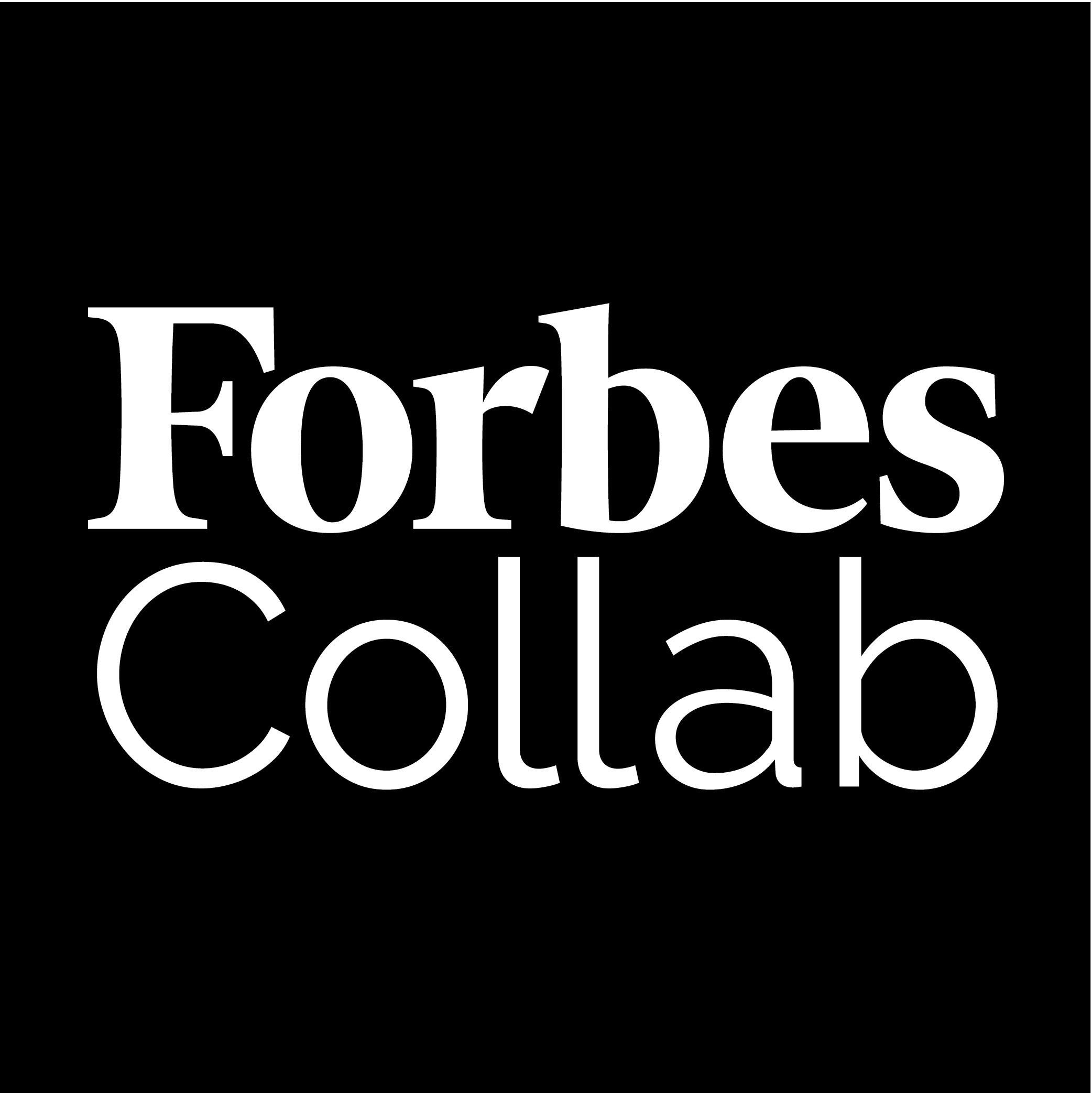Eu costumo reclamar do fato de que, em matéria trabalhista, nós não conseguimos mudar de assunto. No Brasil, os poucos avanços que são feitos nessa área ficam sob a mira constante da tenaz arma do atraso e, não raro, são por ela atingidos. Com o imposto sindical não é diferente. Cá estamos nós outra vez com o tema anacrônico em mesa e com a inglória missão de dizer o óbvio.
Comecemos pelo necessário histórico: a reforma trabalhista de 2017 foi a responsável por tornar voluntária a contribuição sindical que até então era obrigatória (e, por isso, apelidada de “imposto”). A mudança foi singela em termos legais, mas robusta em termos concretos: a lei simplesmente passou a garantir que a contribuição ao sindicato seria descontada do salário do trabalhador apenas se este formalmente consentisse. Com isso, igualamos finalmente o Brasil ao resto do mundo quanto ao tema e pusemos fim a 70 anos de república sindical.
Até essa singela e robusta mudança, o sistema sindical brasileiro arrecadava mais de 3 bilhões de reais por ano, valores que, sabemos todos, também costumava irrigar manifestações político-partidárias. O que se seguiu foi uma brusca queda de arrecadação por parte dos entes sindicais e uma diminuição da própria sindicalização de trabalhadores (dados do IBGE chegaram a indicar menos três milhões de sindicalizados após a reforma – 21,7% do total). Sintomas de um sistema de representação viciado que poderia, ali, ter encarado os próximos passos de um caminho de reinvenção e efetiva legitimação.
As viúvas do imposto sindical, contudo, passaram a buscar ressuscitá-lo a qualquer custo. Os estratagemas incluíram a tentativa de se criar um suspeito “Conselho Nacional de Organização Sindical”, dando-lhe competência constitucional de deliberar acerca de “formas de financiamento sindical” (ou seja, uma carta branca para a instituição de novas taxas ou contribuições obrigatórias) e a tentativa de se fazer prevalecer uma interpretação canhestra da lei, segundo a qual a autorização individual do trabalhador para o desconto em folha poderia ser substituída por uma autorização “coletiva” que, na prática, era estabelecida pelos próprios representantes sindicais em assembleias esvaziadas.
Os enlutados do imposto não vinham obtendo sucesso e encontraram na nossa Suprema Corte um importante obstáculo. De fato, provocado sobre o tema, o STF chegou a chancelar integralmente a retirada da obrigatoriedade, com a lembrança de que “a garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada.” Sobre a autorização “coletiva” da cobrança, o STF consolidou em seguida o entendimento de que era, de fato, indispensável a autorização individual do pagante para o desconto da contribuição sindical.
Esse mesmo STF, no entanto, parece agora tendente a mudar radicalmente seu posicionamento. Em nova apreciação do assunto, o Ministro Gilmar Mendes alterou seu entendimento para permitir a cobrança do imposto de “todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, desde que assegurado o direito de oposição”. Foi seguido pelo Ministro Barroso e pela Ministra Cármen Lúcia. O “placar” encontra-se em 3 x 0 pelo retorno do imposto e o julgamento, que havia sido suspenso em abril, será retomado no plenário virtual nesta semana.
É necessário esclarecer que o tal “direito de oposição”, na prática, dificilmente é exercido pelo trabalhador. Trata-se de previsão com a qual há muito já estávamos acostumados – e da qual rarissimamente resultava efetivo direito de escolha para o “contribuinte” empregado. O usual entre os sindicatos, até porque obviamente desinteressados na viabilização da medida, sempre foi estabelecer formas restritivas e dificultosas do exercício da oposição, como, por exemplo, a limitação da declaração ao comparecimento presencial, em dias úteis, na sede do sindicato etc. – sem mencionar a pressão e o estigma contra o trabalhador envolvido em todo o processo.
O que parece, portanto, um sensato posicionamento de se conferir ao trabalhador o alegado direito de escolha, nada mais é do que simples ressurgimento do que sempre existira. Em uma palavra: retrocesso. E retrocesso em um tema em que, a bem da verdade, já deveríamos já ter tido mais progresso.
O Brasil ainda deve aos seus trabalhadores uma reforma sindical ampla.
Adotamos, há mais de setenta anos, o princípio da unicidade sindical, segundo o qual apenas um sindicato por localidade pode representar determinada categoria. Trata-se de um sistema que estimula o sindicalismo não representativo, acomodado e politizado pelo controle estatal. Baseado no monopólio, o modelo tende a asfixiar o trabalhador, em lugar de dar-lhe voz.
Seria preciso, portanto, completar a transição e instituir a pluralidade sindical preconizada pela própria Organização Internacional do Trabalho. Em um ambiente de saudável concorrência, o sindicato teria de se esforçar para ser o eleito a representar determinado grupo. Nesse regime de ampla liberdade, associação e financiamento sindicais, caberia ao trabalhador apenas escolher o ente sindical mais apto a representá-lo e a melhor maneira de sustentá-lo. Para isso, todavia, seria desejável que se mantivesse ao menos os mínimos avanços já alcançados.
Ana Fischer é Juíza do Trabalho do TRT da 3a Região. Foi uma das coordenadoras do Grupo de Altos Estudos do Trabalho (GAET) do Ministério da Economia. Participou da Comissão de Redação da Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem, necessariamente, a opinião de Forbes Brasil e de seus editores.