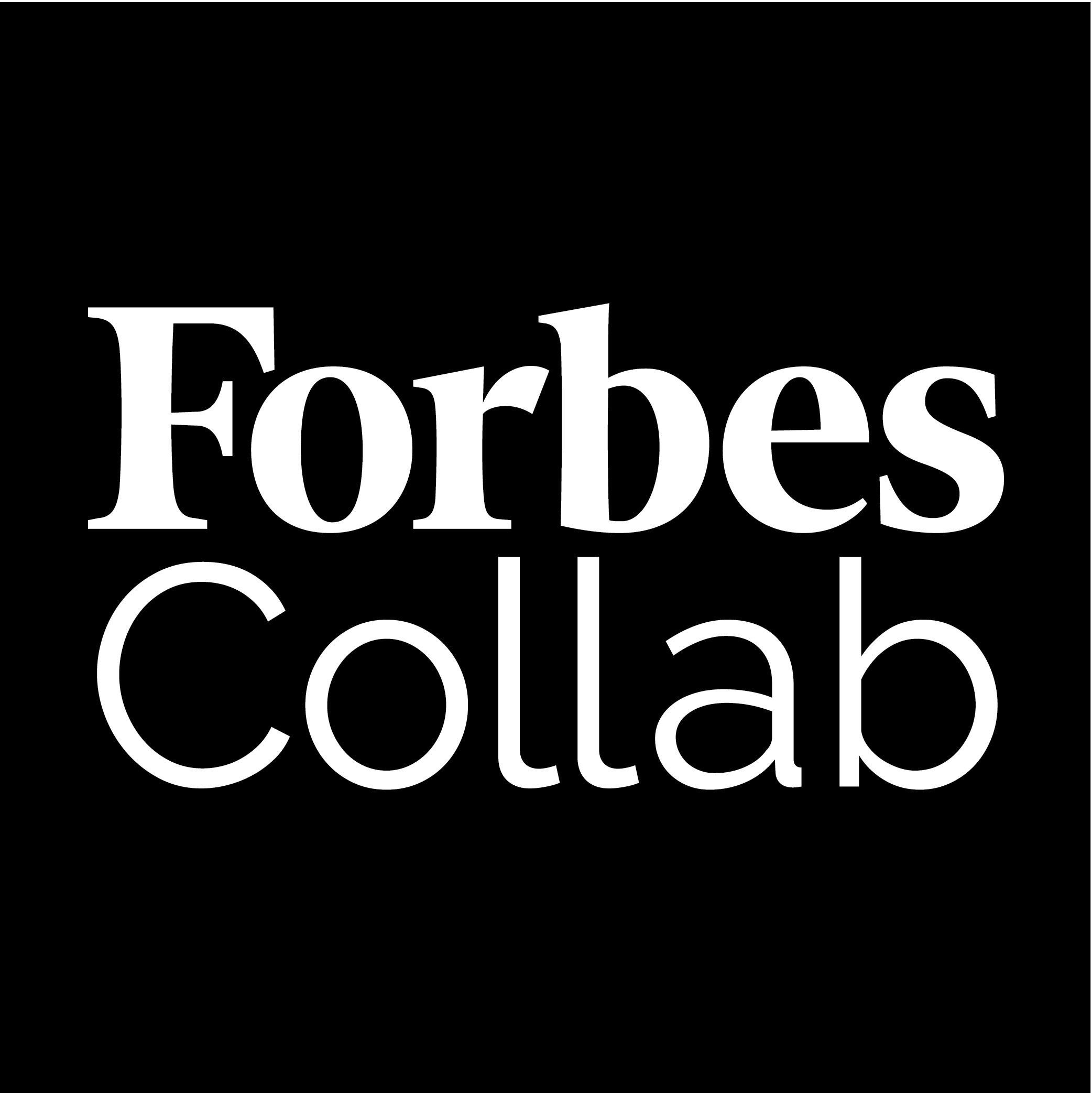O Estado-juiz precisa garantir o cumprimento das escolhas feitas pelos sujeitos a que estas regras se destinam
O STF acaba de decidir que não cabe mais à Justiça do Trabalho julgar ações de representantes comerciais. Trata-se de mais um passo na consolidação de uma tendência de diminuição do poder dos tribunais trabalhistas e de restrição do seu campo de atuação. De fato, a Justiça do Trabalho, a partir de um texto constitucional que lhe garantia, desde 2004, o poder de decisão sobre quase tudo do mundo do trabalho — e que a fez sonhar até com a jurisdição penal (PEC 327/09) — viu-se, ao contrário, perdendo ao longo dos últimos anos várias de suas competências. Os juízes do trabalho já não podem mais, por exemplo, decidir sobre conflitos de servidores públicos, sobre a complementação de aposentadoria de qualquer trabalhador ou sobre cobrança de prestadores de serviço. Todos esses são temas importantes que representam, na prática, milhões de processos que passaram a ser apreciados pela justiça comum.
Há quem diga que a diminuição do papel da justiça trabalhista se deve a sua suposta parcialidade, ou a “síndrome de Robin Hood” de seus juízes. Acusam-na de estrangular o raciocínio jurídico para privilegiar sempre o trabalhador; ou de fazer justiça social e não Justiça. (A opinião parece ser partilhada pela população — basta passar os olhos sobre as seções de comentários de notícias relacionadas a decisões trabalhistas na imprensa para se deparar com críticas contundentes à sua atuação e até à sua simples existência.)
Não é possível afirmar que a perda de poder da Justiça do Trabalho se deva, de fato, a tudo isso que lhe imputam. Contudo, o que se pode afirmar com tranquilidade é que os Tribunais do Trabalho tendem a ser refratários a mudanças, sobretudo legislativas, que representem maior espaço de negociação individual, maior liberdade dos particulares e menor intervenção estatal na vida privada – aspectos que devem ser a tônica do novo e tecnológico mundo do trabalho, já visível neste início de século. A reforma trabalhista e a resistência a ela estão aí para comprovar o que digo.
Além disso, de um modo geral, o judiciário trabalhista é mesmo afeito a um ativismo que pode ser muitas vezes prejudicial aos próprios propósitos que o animam. Essa postura já foi objeto de preocupação e reconhecimento do próprio ex-Presidente do TST, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que assim já escreveu sobre o problema:
“A maior tentação a que somos submetidos, como juízes do trabalho, é a de acharmos que sabemos melhor o que é bom para os trabalhadores e empregadores que eles mesmos. Tal tentação, fundada, devemos reconhecer, na vaidade em relação às próprias ideias e no orgulho de achar que nossa visão é a melhor que a alheia, tem levado a supervalorizar o princípio da proteção e a desprezar o princípio da subsidiariedade, em sistemática intervenção judicial nas relações laborais (…) Se a raiz do problema pode estar, ou não, numa visão (não admitida) do desejo de se ter um controle absoluto sobre as relações laborais (um certo “gosto pelo poder”, sempre ampliativo de competências) ou de se sentir realizado com um paternalismo (ou “complexo de super-mãe”) promotor da Justiça Social, mas que acaba sendo sufocante sobre os trabalhadores e seus sindicatos, o fato é que suas manifestações e efeitos são, inegavelmente, os mais acima descritos, num intervencionismo que tem passado do ponto de equilíbrio que harmonize as relações sociais, já que as tem acirrado ultimamente em nosso país, a par de gerar, como concausa, o aumento do desemprego e o afastamento dos investimentos estrangeiros e inclusive pátrios.”
Uma justiça trabalhista — independentemente de ser, ou não, um ramo autônomo do judiciário — é imprescindível a uma sociedade que se quer civilizada. Conflitos oriundos do mundo do trabalho sempre existirão e precisarão de um adequado enfrentamento por um Judiciário que, por isso, precisa ser preparado para lidar com essa espécie muito particular de conflito.
É indispensável, portanto, que a magistratura trabalhista se aperceba de seu papel contemporâneo, que pode ser simplificado nos seguintes termos: o Estado deve intervir tão somente quando os particulares não forem capazes de resolverem, por si só, seus próprios problemas, cabendo-lhe prestigiar e assegurar o cumprimento das escolhas feitas pelos indivíduos, desde que estas tenham observado a legalidade.
O Estado-juiz, que tem a última palavra na prevalência das regras de conduta, precisa garantir o cumprimento das escolhas feitas pelos sujeitos a que estas regras se destinam – e isso inclui o respeito às escolhas feitas pelo legislativo legitimamente eleito por esses mesmos sujeitos. Isso faz ainda mais sentido em um momento histórico em que, repita-se, as relações trabalhistas tendem a ser marcadamente autônomas e intermediadas por tecnologias que põem o foco cada vez mais no indivíduo e suas decisões.
Em outras palavras, é imperioso que a Justiça do Trabalho se concentre em outro tipo de ativismo: o de buscar um amadurecimento institucional que lhe faça ocupar um papel de equilíbrio numa sociedade democrática. Sob pena de ter de continuar a assistir, passivamente, a contínua restrição de seu âmbito de atuação.
Ana Fischer é juíza do Trabalho da 3ª Região. Integrou a comissão de redação da Reforma Trabalhista e de outras normas legais. É uma das coordenadoras do GAET – Grupo de Altos Estudos do Trabalho do Ministério da Economia.
Siga FORBES Brasil nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Siga Forbes Money no Telegram e tenha acesso a notícias do mercado financeiro em primeira mão
Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.
Tenha também a Forbes no Google Notícias.
Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem, necessariamente, a opinião de Forbes Brasil e de seus editores.