Desde muito jovem, ele especializou-se em resolver grandes problemas com enorme eficiência. Essa capacidade permeou sua carreira até hoje, seja no setor público, seja no privado – no qual atuou em empresas como Bunge, o grupo de comunicação RBS e, agora, BRF. Não nasceu “gênio”, nem com o dom da liderança, como ele ilustra lembrando uma passagem divertida de sua infância. Mas tornou-se um dos maiores gestores do país graças aos ensinamentos de “pessoas extraordinárias” e à capacidade de formar bons times.
LEIA MAIS: Os melhores CEOs do Brasil
Aos 65 anos, é pai de cinco filhos (de 1 a 40 anos de idade) e caminha para o quarto casamento (com a produtora cultural Joana Henning, de 35 anos). Nesta entrevista à FORBES, Pedro Pullen Parente fala sobre os grandes desafios de sua carreira, a saída da Petrobras e o que já está fazendo à frente da BRF (na semana em que concedeu esta entrevista, no fim de junho, anunciou um plano de reestruturação de R$ 5 bilhões envolvendo a venda de operações na Argentina, Tailândia e Europa; a notícia fez as ações da BRF dispararem quase 15%).
FORBES: Como foi sua infância? Já era um pequeno gênio?
Pedro Parente: Aos 10 anos de idade, em 1962, nos mudamos do Rio para Brasília. Eu não gostava muito de estudar – o que aprendia na sala de aula era o que eu usava para fazer as provas. Tirava notas medianas. Quando a coisa apertava, eu pedia ajuda ao meu irmão Felipe, um pouco mais velho e muito mais estudioso que eu. Durante um tempo, estudamos na mesma classe, para minha sorte.
FORBES: Colava dele nas provas?
PP: Não lembro (risos)…
FORBES: Brasília naquela época não era um lugar meio monótono?
PP: Para a criançada era um paraíso. A quadra onde eu morava não tinha calçada nem asfalto, só os prédios no meio do barro. E as crianças adoravam quando chovia. Uma de nossas maiores diversões era atolar os caminhões de lixo.
FORBES: Atolar caminhões? Como assim?
PP: Quando eles paravam para recolher o lixo, a gente cavava um buraco em volta das rodas. Na hora de sair, ele não conseguia. Nossa grande conquista foi quando atolamos dois caminhões de uma vez – o primeiro e o que veio depois para ajudar. Tiveram que chamar um trator para rebocar os dois.
FORBES: Você já era o gestor das travessuras?
PP: Ainda não, só participava. Eu não era o executivo da bagunça (risos).
FORBES: E da juventude, o que lembra?
PP: Em 1968, o clima estudantil estava bastante atiçado, bastante nervoso. Eu tinha saído do ginásio [últimos quatro anos do ensino fundamental] absolutamente inocente do ponto de vista de posicionamento político. Chegando à escola – o Centro Integrado de Ensino Médio (Ciem, ligado à Universidade de Brasília) –, me perguntavam: “O que você é? Alienado, burguês ou esquerdista?” Eu respondia: “Bom, eu não sei o que eu sou, então imagino que eu seja alienado”. De fato, nunca me aproximei do movimento estudantil, mas via tudo aquilo com muita preocupação. Mais de uma vez a polícia entrou no Ciem, destruiu o laboratório e bateu em todo mundo. Em 1971, entrei na UnB – engenharia elétrica com opção em telecomunicações.
FORBES: As coisas ficaram mais calmas? Vocês levavam uma vida confortável?
PP: Não era uma vida muito confortável porque nossa família era muito grande – éramos 11 irmãos, eu sou exatamente o do meio – e meu pai era funcionário público, trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral. Sempre tinha que procurar meios adicionais de receita. Abriu uma corretora de imóveis para minha mãe conduzir. De vez em quando faziam um bom negócio e isso dava uma aliviada, mas nunca tivemos longos períodos de estabilidade financeira. Às vezes passávamos por situações bem apertadas.
FORBES: Quando começou a trabalhar?
PP: Aos 14 anos, nessa pequena empresa da família. Aos 18, fiz concurso para o Banco do Brasil e passei. Foi meu primeiro trabalho com carteira assinada. Era um cargo bastante inicial, de auxiliar de escrita, mas foi uma escola extraordinária. Logo no primeiro dia entendi a relevância da contabilidade. O chefe me chamou e disse: “Meu filho, isto aqui é uma agência bancária. Agência bancária paga e recebe. No começo do dia, o tesoureiro dá um montante de dinheiro para os caixas; no fim do dia, ele recolhe o dinheiro – a diferença são os pagamentos feitos. A contabilidade tem que dizer de quanto deve ser essa diferença, quanto deve ter no caixa no fim do dia. Se não bater, ninguém vai para casa, fica aqui até achar a diferença”.
FORBES: E qual foi o primeiro “incêndio” que teve que apagar?
PP: Aos 20 anos de idade, entrei no Banco Central. Os desafios ali eram de produtividade. Trabalhávamos numas máquinas muito antigas. Mas eu tive a sorte de ter um chefe, chamado Cincinato, que me ensinou valores importantes. O primeiro: temos que trabalhar para o cliente. Nossos clientes eram as áreas-fim do banco, então tínhamos que fazer uma contabilidade gerencial para atendê-los. Até então ela não era nada gerencial – o fechamento de junho, por exemplo, a gente só ia saber em outubro, quatro meses depois, quando não era mais possível fazer nada. Então fizemos um trabalho intenso para que a contabilidade do BC fechasse na noite do mesmo dia. Para que a contabilidade seja gerencial, as informações devem ser vistas enquanto ainda são relevantes para a tomada de decisões. Também é fundamental basear todas as operações da empresa em um sistema contábil único. Fizemos isso no BC num prazo de seis meses, com apenas seis pessoas. Naquele tempo as planilhas eram manuais…
FORBES: O que mais aprendeu com esse chefe?
PP: Outra lição foi buscar a excelência operacional: “Faça o que você deve fazer sempre da melhor maneira possível”. Não importa se você ganha pouco ou muito, o verdadeiro fator de motivação é fazer bem aquilo que você se propôs a fazer. E aí entra o ensinamento de outra pessoa de muita relevância na minha formação profissional, que é o [especialista em gestão] Vicente Falconi: empenhe-se em bater metas ousadas. Esse é o verdadeiro desafio, o verdadeiro fator de motivação. Apliquei tudo isso em minha vida profissional, inclusive em alguns momentos complexos da vida nacional.
FORBES: E não foram poucos…
PP: Sim. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, começamos um trabalho para renegociar a dívida dos produtores rurais. Eles tinham um passivo – a dívida agrícola –, que tinha um indexador, e um ativo – o produto agrícola –, que flutuava conforme o preço de mercado. Isso gerou um endividamento insustentável para o produtor. Mas não podíamos simplesmente perdoar essas dívidas. Então conduzimos essa difícil renegociação – que, no fim, foi bem-sucedida. Depois veio a renegociação dos estados e municípios. Foi outro grande desafio negocial e de gestão. O Mato Grosso, por exemplo, tinha 45% de sua receita pagando dívidas. Era insustentável. Ocorre que os bancos estaduais emprestavam para seus próprios acionistas e, no fim do dia, o BC tinha que cobrir o rombo para não gerar um problema sistêmico e político. Além disso, as distribuidoras de energia elétrica recebiam a energia da geradora federal e vendiam para os consumidores. Recebiam, mas não pagavam – repassavam esse dinheiro sob a forma de dividendos ou de empréstimos a seus acionistas. Eliminamos essas duas fontes de financiamento espúrio e, em troca, refinanciamos as dívidas por um prazo mais longo. No caso de Mato Grosso, os 45% caíram para 13% da receita anual. Foi um ótimo negócio.
FORBES: Aí veio o apagão.
PP: Que foi uma falha de avaliação do governo como um todo. Em uma reunião da comissão de política energética, os técnicos do Ministério das Minas e Energia diziam que teríamos que fazer um apagão compulsório de seis a oito horas. Imagine uma cidade como São Paulo, despreparada, com tantos hospitais sem geradores, semáforos etc. Seria o caos total. Aí o presidente FHC me chamou e disse: “Você tem que coordenar isso, temos que sair dessa situação de uma maneira organizada”. Fizemos um trabalho de convencimento da população, no sentido de economizar energia. Foi tão bem-sucedido que mobilizou até os consumidores do Sul, onde não havia o problema.
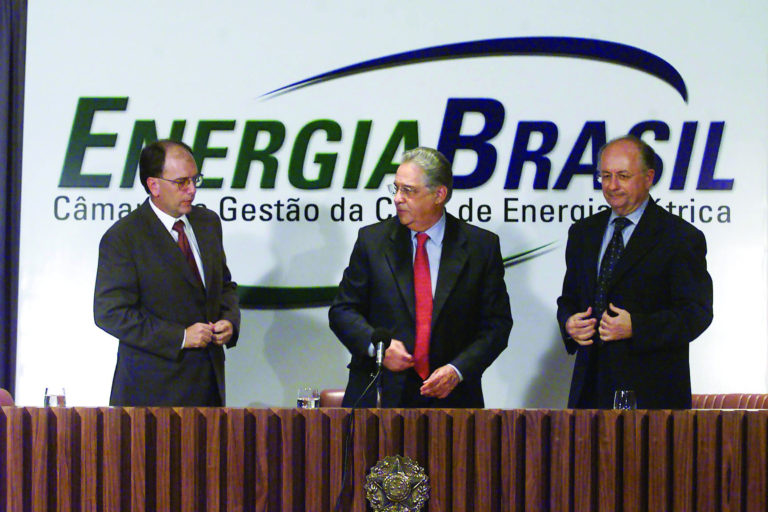
Como ministro-chefe da Casa Civil do governo FHC – cargo que acumulou com o de ministro de Minas e Energia na crise do abastecimento de energia elétrica (apagão), em 2002
FORBES: Você é engenheiro. Onde aprendeu contabilidade, economia e gestão?
PP: Tudo na prática.
FORBES: Como explica sua rápida adaptação em empresas de áreas tão diferentes (alimentação, comunicação, energia)?
PP: Minha visão de gestor é de alguém que sabe mobilizar pessoas e recursos para alcançar resultados. Eu não conhecia nenhum desses negócios. Mas tinha essa visão que vem de todo o meu treinamento anterior – visão de cliente, de metas, de excelência, de sistemas de gestão (aprendi com o Falconi o sistema de gestão por diretrizes). Isso me permite ser um gestor adequado a diferentes circunstâncias – desde que eu saiba escolher um time ou que encontre um time com os conhecimentos necessários daquele negócio específico. Na Petrobras foi um pouco mais fácil porque eu tinha sido presidente do conselho até 2002. Mesmo assim, nunca acho que a vida inteligente começa no dia em que eu chego à empresa – esse é um erro muito comum nas mudanças de gestão, tanto no setor público
como no privado.
FORBES: Resuma sua atuação na Petrobras.
PP: A Petrobras estava num momento em que o maior incêndio tinha sido debelado – problemas de governança, estrutura e organização. O que a Petrobras não tinha: um plano estratégico para organizar a empresa, mobilizando recursos e pessoas. Escolhemos duas prioridades: segurança e desalavancagem. A desalavancagem incluía política de preços, redução de custos, otimização dos investimentos e desinvestimentos. Outra coisa que fiz foi propor e aprovar na diretoria e no conselho uma antecipação da métrica de desalavancagem em duas vezes a meia o Ebitda em dois anos – a previsão era 2020, e isso foi antecipado para 2018. Quando saí, tudo indicava que a gente alcançaria a meta. A disciplina na execução das medidas foi fundamental para a reversão que fizemos na Petrobras num prazo tão curto: reduzimos substancialmente a dívida e chegamos a triplicar o valor da empresa.
FORBES: Sempre mantendo a privatização no horizonte?
PP: Nunca quis falar de privatização porque isso tiraria o foco do que a gente estava fazendo. Privatização era uma discussão para o acionista controlador, não para a gestão da empresa.
FORBES: Mas é favorável ao processo?
PP: Sou a favor da privatização de algumas estatais. Temos estatais demais. Mas com algumas delas, como a Petrobras e o Banco do Brasil, eu seria extremamente cuidadoso nessa discussão. Por uma razão muito importante: é preciso respeitar a opinião do brasileiro, saber o que o brasileiro pensa a respeito disso. As pesquisas mostravam que, em relação à Petrobras, a população é majoritariamente contra a privatização. Por outro lado, não há dúvida de que ela paga um custo altíssimo por ser estatal. Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Ela poderia deixar de ser obrigada a seguir alguns ritos, regras e processos próprios da administração pública que são altamente custosos para uma sociedade de economia mista que opera em um mercado competitivo.
FORBES: O que gostaria de ter feito na Petrobras e não conseguiu?
PP: A política de preços (o reajuste diário) foi o gatilho de toda a discussão que acabou gerando uma carga de ataques extremamente ácidos e virulentos contra a empresa – e muito centrada no seu CEO. As pessoas não conseguiam ou não queriam entender duas coisas. Primeiro: a Petrobras não forma preços; ela opera no mercado de commodities, no qual os preços são formados no mercado internacional. Estávamos passando por dois choques: o do preço do petróleo e o cambial. Segundo: ou a Petrobras encontra uma maneira de os importadores conviverem com uma periodicidade mensal sem ter prejuízo ou ela tem que praticar preço diário. Isso está sendo discutido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que é um órgão regulador. Para dar certo, todos os agentes do mercado deveriam ser regulados também. Então pensei, repensei… Será que haveria uma maneira de resolver isso sem precisar de uma periodicidade mensal? Concluí que nenhuma maneira seria tão ajustada quanto fazer a periodicidade diária. Mas a realidade é que os caminhoneiros causaram um problema que estava assumindo dimensões gravíssimas. E quem é o culpado aos olhos da sociedade? A Petrobras, que fez os reajustes.
FORBES: Não tinha mesmo como contornar essa crise e continuar o trabalho?
PP: Como a discussão não era racional, mas emocional, não adiantava mais discutir. Um ponto é fundamental: se nós queremos administrar o preço dos combustíveis, o país precisa escolher uma de três alternativas (e não existe outra): ou o consumidor paga, ou o contribuinte paga (como no caso do diesel, que é subsidiado), ou o acionista da Petrobras paga. Em algum bolso vai doer. Se a empresa vai praticar preços abaixo do preço internacional, o governo deveria pensar em fechar o capital, porque não é justo que o acionista pague por isso.
FORBES: Em sua opinião, qual foi o peso do componente político-ideológico na organização da greve dos caminhoneiros?
PP: Duas ou três semanas antes da crise, havia um clima de felicidade com o fato de a Petrobras ter recuperado sua posição de empresa com maior valor de mercado do país. Isso gerou reportagens elogiosas, comemorações e outras formas de reconhecimento à gestão da Petrobras. Muitas vezes isso era personificado na minha pessoa – o que era injusto, porque eu não fiz nada sozinho, foi um trabalho de time. Mas era o meu nome que ficava em evidência. Isso certamente desagradou algumas pessoas. Com nossa credibilidade em alta, era difícil que qualquer crítica pudesse atingir a mim ou à empresa. Na crise dos caminhoneiros, eles precisavam buscar um culpado. E deram voz a quem fosse contrário a nós. Nesse momento, concluí que minha permanência colocava em risco a continuidade do programa que estava dando tão certo. Hoje, apesar de uma dívida ainda alta, mas em equacionamento, a Petrobras virou uma empresa “normal” – as notícias a respeito dela estão nas páginas de negócios, e não mais nas páginas policiais.

O anúncio de seu nome como novo CEO, em junho, valorizou as ações da BRF em 10%
FORBES: E na BRF, combalida pelos reflexos da Operação Carne Fraca, por onde começou?
PP: Comecei fazendo um diagnóstico. Iremos a público dar uma satisfação aos acionistas, aos investidores, ao mercado em geral [a primeira satisfação foi o anúncio, três dias depois desta entrevista, do plano de reestruturação de R$ 5 bilhões – que fez as ações dispararem, na maior alta do Ibovespa no dia 2 de julho]. Esse é um negócio completamente diferente, mas há algumas semelhanças em relação à Petrobras, como a questão da alavancagem. Quero muito ver essa empresa cada vez mais sólida e operando com o sucesso que sempre teve. Suas marcas, como Sadia e Perdigão, são excelentes, e os mercados globais gostam muito de seus produtos – um dos desafios, nesse caso, são as medidas protecionistas de alguns países. Temos que entender como lidar com isso. Faz parte do negócio.



















